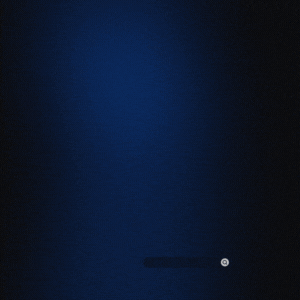Carnaval paulista: Elis Trindade, rainha do maracatu
Agência Brasil: Como começou sua história com a cultura popular e o carnaval? É desde pequena?
Elis Trindade: É bem engraçado que, quando você fez essa pergunta, me vieram coisas da memória de infância que eu não associava diretamente à cultura popular. Vou me apresentar: sou Elis Trindade, uma pessoa negra, de família negra. A maior parte da minha família tem contato com a música, com a arte, mas a gente não entendia isso como profissão, do jeito que eu faço hoje, do jeito que meu irmão, Gustavo, faz hoje. Ele está em Pernambuco, é cantor. Eu só vim a me entender como artista quando cheguei em São Paulo. Mas fazer essas vivências de cultura popular, eu já fazia há muito tempo, e por incentivo da família, porque a gente vai para a igreja e dança pastoril, e porque a maioria das pessoas da minha família é católica. E os maracatus saíam na época de Natal. A gente participava de quadrilhas juninas desde a escola.
Minha família tem até um bloco de carnaval. É o bloco da família Tomé. Todo ano sai na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco. Neste ano, conseguimos juntar mais pessoas da família, porque teve o primeiro encontro em um lugar que é muito significativo para nós, que é um quilombo, onde meu primo mora, de Massangana, Três Marias. É aí que eu começo a entender que minha família já fazia isso e eu saía muito pequena nos bloquinhos de carnaval do bairro. Isso é maravilhoso.
E também tem outra relação, de quando eu vou crescendo, de quando ia para o Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada é um evento. A gente chega, de verdade, de manhã, toma um café com mungunzá, frutas da época, azeitonas. É muito ligado à fartura. Esse carnaval começou assim, pra mim, lá na cidade de Ipojuca, onde a gente ia a esse bairro,onde eu morava, que se chama Rurópolis. A gente fazia os bloquinhos e eu sempre saía de máscara.
Patrimônios do Carnaval - Rovena Rosa/Agência BrasilO "sair de máscara" é também um outro evento do carnaval. Máscara ou la ursa, como a gente chama lá. Este evento era a oportunidade de a gente se transformar debaixo de uma máscara, para ninguém da comunidade te reconhecer. Então, você vai com um grupo de pessoas sem uma bateria, mas vai tocando em balde, bacia, qualquer instrumento que faça barulho, na quenga [casca] do coco ou na palma, ou só cantando, e ia à porta de cada pessoa.
Cada pessoa tentava adivinhar quem era a pessoa debaixo da máscara. E a gente, que estava debaixo da máscara, tinha a obrigação de mudar o jeito de andar, não podia falar, para vizinho não reconhecer. Ele tinha que dar dinheiro ou alguma fruta. E a gente tinha uma música muito forte, um refrão, que era A la ursa quer dinheiro. Quem não dá é pirangueiro. Depois, sentava debaixo de uma árvore, comia todas as frutas, pegava o dinheiro, comprava refrigerante, suco, qualquer coisa, e era nossa diversão. O maioral era aquele que ninguém descobria quem era. A gente sentava na praça, tirava a máscara, não tinha como registrar, porque não tinha celular, mas era um grande evento.
Meu avô é Antônio. Seu Antônio é o evento do bairro. Todo mundo que passa vai pedir a bênção na porta da casa dele. A minha família é muito importante em relação a tudo isso. E não tem muito como separar e dizer que agora vai ser essa festa ou vai ser essa outra. Porque pode acontecer, em algum momento, que a gente comemore alguma festa que não é exatamente daquela data, porque a gente gosta de festa. Então, a gente comemora tudo e a qualquer momento.
As quadrilhas e as fanfarras, acho que são duas coisas que fazem o carnaval de Pernambuco durar o ano inteiro. Tem gente que fala ou a mídia inteira fala assim: o carnaval de Pernambuco é o ano inteiro. Mas é que 7 de Setembro é outro grande evento. Temos várias fanfarras e eu já saí nelas por dois, três anos, depois que passei a morar em Embu das Artes. Eu tirava férias do meu trabalho no período do 7 de Setembro só para desfilar na minha escola. Porque eu era rainha de bateria, ou alguma passista, ou algum destaque na escola. Minha última escola foi a Domingos de Albuquerque. Ainda sou apaixonada por ela. Tem professores muito potentes, que não deixam a peteca cair. Eu fazia esporte lá, meu professor trabalhava em outra escola, particular, e as bolas de lá, ele trazia para minha escola. E os instrumentos da outra escola que não serviam, ele trazia, e a gente aprendia a fazer a manutenção dos instrumentos, porque só tínhamos os instrumentos que eram restos da escola particular.
Eu toquei pouco nas fanfarras de lá e, quando toquei, toquei surdo. Segurei bem o surdo, mas a parte que eu gostava mesmo era de dançar. Fui incentivada também a fazer aula de música, porque tem uma escola municipal de música que faz todos os eventos, tanto da prefeitura quanto da igreja, tudo que é inauguração, que é a banda municipal. O meu avô de consideração, que mora na mesma rua do meu avô, tocava nessa banda e me incentivava a ir. Então, fiz um tempo de clarinete. Achava bonito mesmo era o saxofone, mas desisti, porque não era muito perto da minha casa, era duas vezes na semana.
Em Pernambuco, a gente caminha por muitos lugares. Ia dançar quadrilha em lugares que eram muito bizarros, porque, para passar, às vezes o ônibus ficava atolado. E a gente toda montada de quadrilha, descia e ia empurrar o ônibus. Chegávamos no lugar cheios de lama. Limpávamos os pés e iamos lá dançar. E a gente não recebia nada, nenhum real. Vai fazer figurino? Faz a rifa, alguém ajuda a comprar.
Agência Brasil: Pode falar sobre a feitura das roupas, a indumentária? A gente sabe que, em maracatu rural, as golas são uma trabalheira.
Elis Trindade considera importante costurar a própria vestimenta. - Rovena Rosa/Agência BrasilElis Trindade: Se você ir em uma loja comprar uma coisa que já está pronta, você vai dançar com a energia do outro. Porque você não vai saber se a energia, naquele momento, é de "estou tendo prazer de fazer esse figurino" ou se a pessoa está confeccionando não gosta do carnaval, porque odeia o barulho, a bagunça e tudo do carnaval. Então, você vai vestir a roupa que foi feita por uma pessoa não gostaria que você fosse ao carnaval. Existem as pessoas que disponibilizam dias e horas de sua vida para confeccionar sua roupa e, aí, é o lado oposto, que você nunca vai saber, porque energia é algo que você pega, você sente. Você nunca vai saber quem fez sua roupa. Então, vá fazer sua própria roupa. Tem várias mães que sentam na porta de casa à tarde e ajudam a bordar sua roupa, pregar ou remendar, ajustar, fazer seu acessório de cabeça.
Tinha uma costureira, no meu bairro, a Nalva, que era maravilhosa. Fazia tudo de todo mundo. Eu nunca a vi sair com a roupa que fez, ela sempre saía simples, com shorts e camisetinha, um brilhinho no rosto, mas gostava de ver todo mundo pronto.
Até hoje, em Nazaré da Mata (PE), todo mundo continua fazendo a confecção de seu acessório. Tem gente que não está mais saindo no carnaval, mas já saiu muitos anos. Principalmente os costeiros dos caboclos de lança, que dão muito trabalho. É fio a fio, agulha a agulha. Então, enquanto você tá vendo aquele desenho se transformar, é muito diferente de você chegar à loja e comprar. Tem uma energia diferente. Você vai ter orgulho de vestir e dizer assim: fui eu que fiz.
Acho que a gente, de alguma forma, tem que tocar neste figurino ou fazer o processo de criação. Eu sou uma pessoa que não sabe usar máquina de costura, mas adoro entregar tecido e olhar o tecido ser transformado. Penso no processo de criação da roupa. Ela precisa girar? Como vai ficar no meu corpo?
Agência Brasil: O que você acha que puxou da família Trindade, que é tão forte aqui também? O que acha que absorveu, em termos de cultura brasileira que é colada nas práticas deles?Elis Trindade: Atravessar a ponte, atravessar o mar foi uma coisa muito incrível. Eu conheci minha sogra, Raquel, em Pernambuco. Ela estava em um hotel, tinha ido plantar um baobá. Era a Bienal do Livro Afrobrasileiro, os 100 anos de Solano Trindade. Eu trabalhava no hotel, recebia as pessoas da área super luxo. Neste período, eu fui proibida de folgar e fiquei com muita raiva no começo. Falei que era a minha folga, mas eles falaram que chegariam umas pessoas que eu precisava receber. Eram da área super luxo, da qual eu era supervisora. Recebi e os conheci lá, conheci a história de Solano Trindade a partir dela [Raquel], que já morava aqui em São Paulo e foi pra lá também, recontar a história. Se você anda pelas ruas de Recife, a estátua de Solano Trindade está lá, mas a maioria das pessoas não sabe quem é ele.
Conversei com minha sogra sobre várias coisas da cultura e ela foi me dando vários toques sobre o que era isso. No momento, não imaginei que viesse para São Paulo, pois era o último lugar que eu queria vir na vida. Aí, o Vitor me pediu em casamento, no primeiro dia em que me viu, e eu aceitei e vim para cá. Antes eu era uma pessoa avessa ao casamento.
Minha ligação com a família Trindade é a de aproveitar mais sobre a cultura brasileira, mas não só como diversão. O Vitor disse que minha voz é o que a cultura popular pede. Então, comecei fazendo vocal na banda dele e depois fiquei ajudando mais na produção. Ele me convidou para dançar. Eu ficava com medo de dançar sozinha, porque sempre dancei no coletivo. Dançava no maracatu e na família, é tudo coletivo. Eu sou um bambuzal, e um bambuzal não fica sozinho. Eu me entendo como um bambu, que também não é uma fortaleza. A dança vem me fortalecendo. Vim para São Paulo no final de 2008 pra 2009, quando aceitei casar com o Vitor.
Agência Brasil: Você pode falar sobre o bloco daqui, que tem similaridades com o maracatu de Nazaré da Mata?
Elis Trindade: Durante o período em que eu estava em Pernambuco, tinha Maria Carolina, que é minha prima, filha da minha tia Ângela. Carol tem uma família de maracatus. Nunca me importei muito, mas sempre vi que era uma coisa maravilhosa, de brilhos, porque gosto de brilho. Eu disse que era neste grupo que queria dançar. Só que minha cidade ficava muito distante. E Ipojuca não tem tradição de maracatu.
Quando vi a família Trindade, aqui em São Paulo, fui e voltei para Nazaré da Mata, onde conheço algumas famílias de maracatu. A gente foi lá pra conversar, porque, na verdade, quando a gente pensa na frase de Solano Trindade, tem que pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. A gente precisava ter contato com essas pessoas de lá, que foram seus antepassados e tiveram contato com Solano.
Encontramos esse grupo, que já estava fazendo mais de cem anos. Na época, só dançavam os homens. Algumas relações do maracatu tinham conexão com a calunga. E eu disse: Gente, mas eu adoro boneca. Então, maracatu é o meu lugar. Fui fazendo esse quebra-cabeça. Por que uma mulher formada, grande, ficava brincando com as bonecas escondida? Quando eu brincava com as bonecas na rua, as pessoas falavam que eu já era grande para brincar de boneca. Então, eu brincava no meu quarto com as bonecas. Quando encontrei o maracatu com as calungas, fiquei maravilhada. E disse: quero dançar aí para segurar a boneca. Mas não vim a São Paulo para ser dama do paço, vim e fui rainha. Primeiro, fui rainha do Bloco da Cambinda, que é o bloco de carnaval de rua da minha sogra aqui em Embu das Artes, e antes eu dançava no maracatu..
Nunca quis ficar à frente do maracatu, sempre quis ficar lá atrás. Porque rainha é uma só. Eu tinha impressão de que, ao ficar como rainha, eu ia ficar só lá na frente, em uma responsabilidade de mostrar que sou o poder para as pessoas que estão atrás de mim. E só depois fui entender essa relação. No maracatu de Nazaré da Mata, entendi que começava com todos os homens dançando. A estrutura é muito parecida com a gente, porque tem rei, rainha, princesas europeias. E, aí, Mateus e Catirina, que eu não entendia como do maracatu. O moço que atendeu a gente era Catirina, e ela também tinha a função de se montar, e também parecia uma calunga, porque estava com o rosto todo pintado. A função era alimentar o grupo, andar na frente, limpar o lugar. E era uma boneca também.
Foi muito bom passar por essa experiência, que deixou claro o ensinamento que minha sogra já preparava. Dancei coco lá poucas vezes. Aqui dancei o coco, o jongo, que era mais uma pesquisa dos interiores, dos quilombos, o samba-lenço rural, que eu não conhecia, que foi também uma pesquisa da Margarida da Trindade, que era a mãe da minha sogra e que levou pro Rio de Janeiro, quando trabalhava no hospital psiquiátrico. E a família toda faz algo em relação à dança, mas o nosso carro-chefe é esse: o maracatu.
Fui entendendo a força da rainha, lá na frente. Ela não está dançando sozinha, mesmo que pareça. Tem muita gente ao lado dela, muita força, tanto espiritual quanto carnal. É muita força que a gente precisa ter. A gente é que nem palhaço: não pode perder o brilho, o sorriso, porque tem uma comunidade inteira esperando que a gente tenha essa força.
No maracatu, uma coisa que considero muito importante falar é que temos um movimento hoje, de falar da importância das mulheres no toque do maracatu. Às vezes, tem menina que quer muito estar no maracatu, e eu sei que a maioria dos maracatus de São Paulo tem uma cultura do toque que ainda não tem uma corte. Às vezes, por opção, ou porque ainda não chegou no lugar do grupo de dança. Se está na sua comunidade e tem um maracatu, vá para essa família, mesmo se você achar que tem duas mãos esquerdas, como muitas vezes eu pensei. Às vezes, o maracatu não está na força com que você vai tocar o tambor, está na força com que vai tocar o gonguê, o agogô, a caixa, o surdo, o atabaque, está na força do seu querer.
Eu não tocava maracatu, minha sogra não tocava, mas o nosso sotaque dentro da Nação Cambinda foi ela que trouxe de Pernambuco para cá. E ela traz na oralidade. Ela ouviu a mãe dela falar, ela ouviu os maracatus passarem na porta da casa dela, ela ouviu o boi, o pastoril, e ela sabia do som. Colocando o maracatu como o centro do umbigo da mulher, do ventre, dessa primeira boca, que é a mulher nesse lugar do poder do maracatu. A nossa casa foi segurada a partir disso, do entendimento do que é importante você é ouvir.
Se você sabe falar, você vai cantar. Uma hora, você vai encontrar o seu ritmo e, às vezes, o seu ritmo não é o ritmo que está naquele sotaque e naquele outro. Às vezes, você sair do seu bairro e andar léguas, que nem eu, que saí de Pernambuco para vir pra São Paulo, entender a potência do maracatu e voltar pra Pernambuco, ter um outro olhar em relação a isso. Às vezes, a gente não precisa tocar, a gente precisa ouvir e falar menos. Quando a gente fala menos, a gente aprende muito mais. Tem muito mestre querendo falar. E, às vezes, a gente coloca o mestre no lugar do "só é o mais velho". Às vezes, o mestre que está chegando é uma criança e você não entende o que o universo mandou para você.

 Midia NAS
Midia NAS