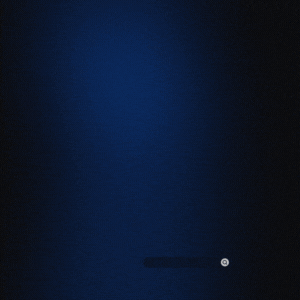Violências, racismo e sexismo aprofundam abismo social de negras brasileiras
Agência CNJ de Notícias
A dor da discriminação e de constantes violências se multiplica diante de casos graves de racismo, dos altos índices de feminicídio e de homicídio que ainda são rotina para milhares de mulheres negras em todo o país. No último dia dia 20 de novembro, data em que o Brasil celebrou o Dia da Consciência Negra, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) integra o movimento histórico e simbólico 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Com ações que vão até o dia 10 de dezembro, a campanha busca compreender muitos dos cenários da violência de gênero contra meninas e mulheres e o contexto de suas vulnerabilidades.
Com muitas camadas, a violência contra as mulheres negras vai além do feminicídio e do homicídio doloso (com intenção), cujos números desafiam especialistas e autoridades das três esferas do Poder. Somem-se a isso as variadas formas de agressões que, não raro, são banalizadas e, muitas vezes, ignoradas por parte considerável da sociedade.
Com atuação no Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF) do CNJ, a juíza auxiliar da Presidência Karen Luise Pinheiro relata recortes da realidade da mulher negra, que sofre discriminação no mercado de trabalho, é submetida à violência obstétrica ao receber menos anestesia sob a crença de uma superioridade física ou enfrenta a solidão em função de padrões de beleza estabelecidos. “Os 21 dias são apenas o começo, o ativismo é uma luta diária. Precisamos dormir e acordar, todos os 365 dias do ano, combatendo essas violências”, defendeu.
Para a juíza, a violência física, cujo último estágio leva à morte, é somente um aspecto de um quadro que agrega complexidades. “A violência ocorre até mesmo nas escolas. O racismo é cometido desde cedo, por exemplo, contra meninas, que são vistas, em sua maioria, como mais agressivas e menos ingênuas. Acrescente-se, a todo esse cenário, a hipersexualização da mulher negra.”
Instrumentos legais
A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), promulgada com o intuito de definir punição adequada e inibir atos de violência doméstica contra a mulher é considerada um divisor de águas em termos de legislação. Porém, a lei tem-se mostrado eficaz em dar maior proteção para as mulheres brancas, o que não acontece com as mulheres negras, como explica a juíza Karen Luise.
Segundo ela, apenas o critério do gênero não é suficiente para proteger as mulheres negras: é necessário utilizar “a chave de leitura de gênero e raça”, a chamada interseccionalidade. “O racismo estrutural se apresenta "genderizado". Vemos uma curva decrescente de feminicídios de mulheres brancas e uma curva ascendente nos feminicídios de mulheres negras”, afirmou.
Inês Maria dos Santos Coimbra, a primeira pessoa negra à frente da Procuradoria Geral do Estado (PGE) de São Paulo desde a sua criação há 75 anos, também ressalta a importância de um olhar mais crítico para a interseccionalidade e o envolvimento das instituições nesse debate, uma vez que o racismo estrutural está intimamente ligado à observância de direitos básicos.
A PGE-SP, como escritório de Advocacia Pública do Estado, criou a Coordenadoria de Direitos Humanos em que essas questões são enfrentadas. “Isso se reflete positivamente na atuação da instituição, na orientação jurídica de formulação de políticas públicas de São Paulo”, disse. Inês destaca a necessidade de o país diminuir essa diferença de representatividade real na Administração Pública e na sociedade, seja por meio de cotas ou por intermédio de políticas públicas, ainda tímidas para o enfrentamento do problema.
Mesmo com instrumentos legais eficientes, a juíza federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) Adriana Cruz, que atua na temática dos direitos humanos e do combate ao racismo, acredita que o grande desafio para atingir uma proteção para mulheres negras, semelhante à de mulheres brancas, é a produção de dados que possibilitem diagnóstico mais apropriado da situação. Nesse caminho, é importante corrigir a falta de uniformidade de informações nos sistemas processuais do país, que nem sempre têm campo de gênero e raça.
Vítimas de ódio
Uma das principais ativistas do século XX, Audre Lorde, mulher negra, lésbica e feminista, afirma, no texto “Idade, Raça, Classe e Sexo: as mulheres definem as diferenças”, do livro Irmã Outsider, que “exacerbada pelo racismo e pelas frustrações da falta de poder, a violência contra mulheres e crianças se torna, com frequência, um padrão nas comunidades negras” por onde a masculinidade é medida. A autora destaca que os atos de ódio contra mulheres naquela sociedade raramente são debatidos como crimes contra mulheres negras.
A atualidade do texto se reflete nos levantamentos realizados, seja por institutos de pesquisa vinculados ao Judiciário ou dedicados a outras temáticas. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 mostra o alto grau de vulnerabilidade à violência doméstica e ao feminicídio de mulheres negras no Brasil. Os percentuais são maiores tanto em situações de feminicídio quanto em mortes violentas intencionais. Entre as vítimas de feminicídio, 37,5 % são brancas e 62% são negras e, nas mortes violentas, 70,7% são negras e 28,6% são brancas.
A análise dos dados feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que uma das possíveis causas para indicadores tão elevados na morte de mulheres negras seria uma possível subnotificação de vítimas negras, ou seja, mesmo sendo mortas pela condição de mulher, a morte de mulheres negras ainda é classificada como homicídio doloso.
Na avaliação da Adriana Cruz, esses números são resultado de uma construção histórica, de muitas décadas. “Um quadro como esse não surge do nada. Há todo um processo de desumanização das pessoas negras que gera esses números. De um lado, temos um Estado que se organizou para não olhar para essas pessoas, vilipendiando suas vidas. De outro, temos uma redemocratização, com perspectiva inclusiva, mas que, em termos históricos, representa muito pouco”, pontuou.
Retrato da desigualdade
O Atlas da Violência de 2021 publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), constituído a partir de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde, traz uma avaliação sobre a vulnerabilidade das mulheres negras.
A pesquisadora da Unicamp Jackeline Romio, citada pelo Atlas, destaca que a violência contra as mulheres negras tem especificidades. Elas estão desproporcionalmente expostas a outros fatores geradores de violência, como desigualdades socioeconômicas, conflitos familiares, racismo, intolerância religiosa e conflitos conjugais, entre outros.
Para a compreensão do contexto da violência racial, o Atlas menciona a análise da filósofa e ativista antirracismo Sueli Carneiro, em que raça e gênero são categorias que justificam discriminações e subalternidades, construídas historicamente e capazes de produzir desigualdades, “utilizadas como justificativas para as assimetrias sociais, que explicitam que mulheres negras estão em situação de maior vulnerabilidade em todos os âmbitos sociais”.
As Mariposas
A campanha brasileira, iniciada no Dia da Consciência Negra, se inspira no movimento mundial dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a mulher que teve o seu início em 1991, intitulado “as mariposas”, em homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa, assassinadas, em 1960, na República Dominicana, quando foram submetidas às mais diversas situações de violência e tortura, entre elas, o estupro. Elas foram silenciadas pelo regime ditatorial de Rafael Trujillo, no dia 25 de novembro de 1960.
O Dia da Consciência Negra, instituído pela Lei n. 12.519, de 10 de novembro de 2011, faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares (localizado em Alagoas) e é um marco para a conscientização de temáticas como discriminação, racismo e desigualdades advindas do preconceito.

 Midia NAS
Midia NAS